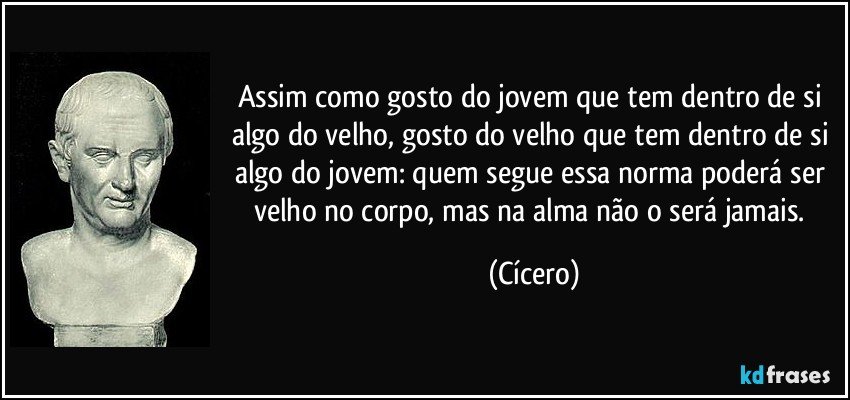Acerca de “Política e Corrupção
Branqueamento e Enriquecimento”,
de P. Saragoça da
Matta.
(Chiado Editora)
FLeming de OLiveira
Recebi
para apreciação da Chiado Editora, Política
e Corrupção- Branqueamento E Enriquecimento, do advogado Dr. Saragoça da
Matta.
Nunca
trabalhei com ele, não o conheço pessoalmente, mas aprecio algumas intervenções
em programas televisivos.
 Trata-se
de um conjunto de textos/conferências com alguns anos (o que lhes pode retirar
alguma oportunidade), que analisam os contornos do Enriquecimento Ilegítimo, da
Corrupção na Função Política e Administrativa, do Branqueamento de Capitais e
do Financiamento ao Terrorismo, assim como a Disciplina Legal e Regulatória do
Mercado Financeiro. O autor também se pronuncia sobre os Prazos de Recurso nos
Megaprocessos de excecional complexidade, os Meios de Prova e o Papel do Consentimento
do Arguido na Utilização de Provas Através do Seu Próprio Corpo, o Dever de
Exame de Toda a Prova Relevante para a Condenação em Sede de Julgamento, o
Interrogatório do Arguido, a Recorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça
e a Delimitação do Núcleo Essencial dos Direitos Processuais das Partes.
Trata-se
de um conjunto de textos/conferências com alguns anos (o que lhes pode retirar
alguma oportunidade), que analisam os contornos do Enriquecimento Ilegítimo, da
Corrupção na Função Política e Administrativa, do Branqueamento de Capitais e
do Financiamento ao Terrorismo, assim como a Disciplina Legal e Regulatória do
Mercado Financeiro. O autor também se pronuncia sobre os Prazos de Recurso nos
Megaprocessos de excecional complexidade, os Meios de Prova e o Papel do Consentimento
do Arguido na Utilização de Provas Através do Seu Próprio Corpo, o Dever de
Exame de Toda a Prova Relevante para a Condenação em Sede de Julgamento, o
Interrogatório do Arguido, a Recorribilidade para o Supremo Tribunal de Justiça
e a Delimitação do Núcleo Essencial dos Direitos Processuais das Partes.
Não
entrando na apreciação destes temas, irei fazer, porém, um comentário
respeitante a sua reflexão de cariz
politico-filosófico sobre a (in)salubridade do nosso regime politico,
embora se pudesse pensar que conforme a minha formação académica e profissional
incidiria preferencialmente sobre os outros.
Questiona-se
naquela reflexão se os (nossos) Partidos
Políticos vivem isentos de verdadeiro escrutínio, seja de mérito ou de
legalidade de procedimentos, por parte do Povo (Soberano). Esta reflexão incide
sobre os políticos, como se fossem uma casta
perversa, um grupo de personalidades com mentalidade e procedimentos
distorcidos diferentes dos demais agentes, sejam dirigentes desportivos,
industriais, sindicais, etc. e que afetam a qualidade da vida coletiva. O autor
aprecia, muito criticamente, a questão da disciplina de voto nas câmaras parlamentares
(AR e assembleias autárquicas), a contaminação dos interesses públicos pelos interesses
dos Partidos e o seu financiamento, a manipulação da máquina do Estado, a
perpetuação das estruturas partidárias e a imutabilidade da lei eleitoral.
O
regime politico português, por mais democrático que se reclame (ainda que não
retoricamente), sofre naturalmente de
distorções que viabilizam críticas, mais ou menos aceradas, justas ou oportunas.
Por outro lado, sabendo-se que este regime (como qualquer outro) não é perfeito,
sem necessidade de invocar facilmente
a falta de cultura e prática democráticas portuguesas, há que ter em conta que
se trata de um regime feito por pessoas concretas,
não virtuais, que não se podem
substituir por outras politicamente mais
corretas, decorrente de uma Constituição aprovada numa conjuntura
especialmente turbulenta e que fundamentalmente resiste.
Não
é original o entendimento que a CRP está a ser desrespeitada pelos partidos com
assento na AR (com a óbvia exceção do PAN) relativamente ao artº 155.º/1/C.R.P.,
que dispõe que os Deputados exercem
livremente o seu mandato (…). E, argumenta-se, que a Disciplina de Voto,
instrumento usado com alguma frequência para impor a vontade de uma liderança
parlamentar ou partidária aos elementos do seu grupo, não deve subsistir numa
democracia real.
Disciplina de voto é um conceito central numa democracia partidária como a portuguesa e define a indicação
de que todos os deputados devem votar no mesmo sentido, aprovando ou rejeitando
o que estiver em discussão.
Em
Portugal, apenas o PS e o PSD consagram (embora de maneira ligeiramente diferente,
mas com o mesmo propósito) a disciplina de voto nos seus estatutos, sendo que
os demais a aplicam em momentos alegadamente decisivos.
No
Partido Socialista o princípio da ação
dos Deputados é o da liberdade de voto.
Mas excetuam-se as
matérias (…).
No
Partido Social Democrata, os Deputados e os eleitos em listas do Partido comprometem-se
a conformar os seus votos no sentido decidido pelo Grupo que integram, de
acordo com as orientações políticas gerais fixadas pela Comissão Política
competente, salvo prévia autorização de dispensa de disciplina de voto, por
reserva de consciência, nos termos do Regulamento desse Grupo.
Já
ouvimos defender que em matérias em
que há disciplina de voto cumpro escrupulosamente o sentido de voto, mesmo que
pudesse discordar. Ou seja, cumpre a disciplina de voto em Moções de
Censura ou de Confiança, no Programa do Governo e nos Orçamentos do Estado,
assumindo no demais a liberdade de voto.
Apesar
de a disciplina de voto não se encontrar especificada nos seus estatutos, o
CDS/PP (tradicionalmente do Arco do Poder) teve um problema com o deputado
Daniel Campelo, quando este decidiu negociar a aprovação de dois Orçamentos de
Estado, do Governo (minoritário) PS. Campelo foi suspenso do partido, fez uma
greve de fome!!! e acabou por ser reintegrado tempos depois, com aplausos.
Recorde-se
que, aquando da votação do OE para 2013 e 2014, Rui Barreto, deputado pela
Madeira, foi o único deputado da maioria PSD/CDS. a juntar-se à oposição,
votando contra a aprovação do Orçamento. Rui Barreto não respeitando a disciplina
de voto, acabou suspenso.
Rui
Tavares escreveu (com a ligeireza de uma generalização e na qualidade de articulista) lamento dizer isto, mas os deputados que votaram contra a sua
consciência fizeram-no apenas para manter um lugar nas listas de deputados. É
uma evidência desagradável, mas uma evidência. E, ao fazê-lo, foram maus
deputados. Um deputado que vota contra a sua consciência, numa questão de
direitos dos cidadãos, para não desagradar à direção partidária que fará as
próximas listas de deputados é um deputado que subverte o espírito da
democracia parlamentar. Pode ser um militante leal do partido, mas é um mau
representante dos cidadãos. É deplorável que em Portugal ainda tenhamos de
explicar, a cada vez, que a disciplina de voto não só não é necessária ao bom
funcionamento de um parlamento nem requerida por lei como é antitética do
parlamentarismo e contrária ao espírito da Constituição, que no seu artigo
155.º determina que os deputados exercem livremente o seu mandato. (…)
(…)
É preciso então dizê-lo claramente: um
deputado que admite dar mais peso à escolha do seu nome para a próxima lista do
que aos direitos dos cidadãos que representa não está a fazer nada no
Parlamento. Não venham dizer que o sistema os obriga a votar contra a sua
consciência. Ninguém está obrigado a ter medo de perder o lugar na lista. É
esse medo que faz dos representantes meros funcionários e que deixa a
democracia portuguesa subdesenvolvida. (…)
Contra
a disciplina de voto em Portugal, argumenta também que não é uma questão de
sistema eleitoral, mas de cultura
parlamentar e democrática, pois
enquanto os cidadãos não demonstrarem que exigem essa cultura democrática aos
seus partidos, estes continuarão a asfixiar o parlamentarismo e acabarão por se
esvaziar a si mesmos.
Diz,
que há parlamentos sem disciplina de voto. Aí os votos contam-se um a um, pelo
que pode haver surpresas. É verdade, mas essas surpresas é o que o partido do
poder naturalmente não quer.
No
Congresso americano, representantes e senadores votam, por vezes, contra o seu
partido.
No
Parlamento Europeu, a disciplina de voto encontra-se explicitamente proibida no
Regimento.
Mas
estes Parlamentos em nada se assemelham ao português, na sua
composição e funções, pelo que essa invocação é desajustada e a comparação absolutamente errada.
Que
podemos dizer em contrário? Se não existisse a
disciplina de voto para certas matérias e, em particular, se o voto fosse
secreto, as maiorias parlamentares (…)
seriam muito mais frágeis e os governos apoiados por tais maiorias sujeitos a
muito maior incerteza política. E, os votos de deputados poderiam mais
facilmente ser cooptados por grupos de interesse, além de que seria mais
difícil levar a cabo qualquer nova iniciativa política, nomeadamente, mais
polémica, ou que contasse com uma base de apoio mais estreita.
O
dilema existe, democracia representativa com disciplina sobre os representantes
do povo, ou representantes do povo completamente livres para pensar e decidir sempre pelas suas cabeças, com
todos os problemas inerentes a essas escolhas.
Seria provavelmente
pouco pragmática, mas, mesmo com todos os problemas que se adivinham, inclino-me
para a segunda opção, escreve o mesmo articulista.
No
que diz respeito ao financiamento dos partidos, Saragoça da Matta defende que
estes não devem auferir comparticipações do OE, e devem gerir a sua ação com os
meios que consigam obter. Nesta matéria, aparecem depressa os autoproclamados arautos
da seriedade, a dizer que os partidos são maus, e mesmo há protagonistas dentro
dos partidos políticos a dizer que são mais sérios que outros.
Muito
bem, mas Saragoça da Matta para além de defender a bondade da proposta não permite
ajuizar como é que os partidos se socorrendo tão só do autofinanciamento
conseguem levar a cabo uma politica apenas orientada pelo interesse publico, sem cair na necessidade de satisfação dos
interesses dos seus financiadores ou corresponder aos respetivos lóbis.
Tendo
em conta que o objetivo do partido politico é ganhar o poder e depois exercê-lo
(nunca se esqueça que conforme a CRP temos
um governo de partidos), é impossível dissociá-lo de facto dos
interesses dos que o suportam.
Em
termos teóricos (a política não se faz
com meras soluções teóricas,
muito menos quando há balizas, e apresentar propostas teóricas é menos
arriscado que concretas), seria mais transparente que do OE saísse uma verba
para o funcionamento partidário, capaz de garantir condições para os agentes
políticos exercerem o seu trabalho e a sua responsabilidade cívica sem
dependência de outro poder, nomeadamente o económico. E acrescentam, isto acompanhado da melhoria dos
mecanismos de transparência, de controlo e de fiscalização.
Não
aceito que, para justificar e/ou manter uma postura de imparcialidade, o agente
(politico ou não) individualmente (ou não) se venha a rodear de pessoas que
não se identificam consigo, não sejam da sua confiança, pois que politica real pressupõe uma relação de
solidariedade, ainda que conjuntural, com interesses ou pessoas que a corporiza.
É
ingénuo pensar que o exercício da ação politica de forma coerente e estável, se
pode desenvolver sem solidariedade e fidelidades, já que passe a expressão será abrir a porta do galinheiro à raposa.
Como
cidadão, entendo que na verdade o Estado se transformou numa máquina ao serviço
do poder e dos que o ocupam, dos que protege e dos que lhe são submissos, com
raras e honrosas exceções. Criou-se um ambiente onde se diluíram pilares como a
família e o casamento, para impor a vontade da lei onde devia prevalecer a
liberdade individual.
Assiste-se
à aprovação de leis em clima de confronto ou revanchismo, quando o Poder deveria mobilizar forças que se
inserem ou não na sua maioria parlamentar, acolhendo sugestões e
aperfeiçoamentos que contribuiriam para uma execução mais justa ou isenta de
dúvidas.
Neste
quadro, o debate político atingiu elevados níveis de agressividade e
oportunismo, sem esquecer a manipulação ou a gestão política dos anúncios ou
dos dados políticos.
Por
isto e tudo mais, o autor defende que Portugal vive uma ficção democrática.
Esquece (???) que temos a democracia de acordo com a matriz da CRP, e pessoas reais, que pode e deve
continuar a ser melhorada, erradicando-se situações de comportamentos
ilegítimos que violam o decoro ou interesse público.
Tenho
as maiores dúvidas quanto às vantagens da criação de círculos uninominais, para
já. A
revisão constitucional de 1997 viabilizou a criação de círculos uninominais na
eleição da Assembleia da República no quadro de um sistema proporcional e,
portanto, em articulação com círculos plurinominais como os que já existem. Todavia
as resistências, têm sido fortíssimas e estes anos passados, nada se avançou.
Esclareça-se
que nos círculos uninominais escolhe-se apenas um nome, um deputado. Nos círculos
plurinominais escolhem-se deputados de entre listas com vários nomes. No primeiro
caso escolhe-se para representante quem se prefere. No segundo escolhe-se a
lista de partido e proposta por este, sendo os candidatos eleitos conforme a
proporção obtida por cada lista. Mais que deputados escolhe-se o partido.
Um
sistema assente apenas em círculos
uninominais pode assumir-se injusto na representação das correntes políticas em
confronto. As eleições inglesas são disso um bom exemplo. Um sistema só de
círculos plurinominais pode tornar-se distante na relação eleito/eleitor, pelo
que se for possível criar um sistema misto daria, uma representação mais justa
e próxima.
Subscrevo que o
essencial, numa reforma do sistema eleitoral, será de definir se se pretende
com o voto popular eleger deputados de forma conjugável com a governabilidade
do país.
O
atual Governo PS, apoiado na AR por BE, PCP e PEV, decorre de uma vontade parlamentar e não popular.
Em Portugal,
encontram-se conhecidas dezenas propostas sobre a reforma do sistema eleitoral
e foram feitos outros tantos estudos. O próprio António Costa, enquanto Ministro
da Administração Interna, encomendou o estudo do sistema alemão sobre círculos
uninominais, que, como os demais, foi para a gaveta onde se encontra.
Esta
matéria, aliás não trabalhada ou amadurecida, carece do favor dos partidos
(dificilmente se entenderiam entre si), não apenas porque isso não iria implicar
uma maior aproximação com os eleitores, como pelo facto de círculos políticos uninominais,
assentarem em personalidades da não confiança ou estranhos aos partidos.
É
fácil reconhecer que não há sistemas eleitorais perfeitos, sendo um dos mais
graves a falta de representatividade.
Mas
não tem nada de meritório o nosso?
Sim,
a conjugação da proporcionalidade com a governabilidade
Proporcionalidade tem a ver a
relação/dimensão dos grupos parlamentares, às proporções de votos recebidos.
Idealmente, um partido que recebe 20% dos votos, teria direito a 20% dos
deputados. Tal não acontece, pois, deve ser contrabalançado com a governabilidade, isto é a
facilidade com que se constituem maiorias parlamentares para dar suporte a
governos estáveis. Se o sistema eleitoral tende a gerar maiorias absolutas de um
ou dois partidos, goza de boa governabilidade, diremos nós. Mas se tende a
gerar grupos parlamentares muito fragmentados, diminutos e pouco
representativos, é necessário o entendimento de três ou mais partidos para
constituir uma maioria a assegurar a governabilidade. Quanto mais proporcional
é um sistema, pior é, em princípio, a sua governabilidade.
Os
votos depositados não conduzem a uma eleição com direito a cadeira parlamentar (nem
no texto ou no seu espírito).
Seria
uma solução absolutamente extraordinária,
que os votos perdidos, viessem implicar cadeiras vazias pertencentes aos eleitores que não se reveem no sistema
politico partidário.
Salvo
melhor opinião, esta tese e o seu resultado não acarretariam mais valor à
democracia, não lhe acrescentariam verdade ou eficiência, ou assegurava maior
preocupação dos partidos e dos eleitos com os respetivos eleitores.
Para
terminar, podemos referir que através de uma proposta (salvo o devido respeito)
fantástica, não se evitaria a distribuição
de benesses dos partidos aos seus eleitores/apaniguados
e assim se iniciaria a desmontagem da maquiavélica simulação democrática em que
o sistema desta III República aprisionou os cidadãos.
Seja
como for, é uma interessante reflexão
académica que alegadamente visa Portugal, mas que seria, com a mesma facilidade e utilidade, aplicável a
outros países europeus.